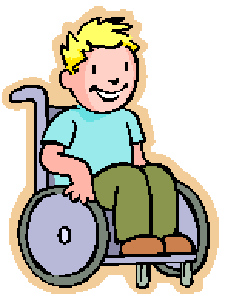Na escola, na família e em outros ambientes minha relação com a grande maioria das crianças da minha idade nunca foi muito boa. É bem verdade que, a não ser por um ou outro ano escolar, nunca cheguei a ser completamente isolado. E alguns colegas, geralmente (mas nem sempre) os mais centrados e menos problemáticos da turma – dois dos quais mencionei no post sobre os cadarços –, fizeram o movimento de se aproximar de mim e, se não se pode dizer que formaram “laços de amizade”, ao menos estabeleceram comigo certo coleguismo. Isso, no entanto, foi mais comum na infância e bem menos frequente a partir da pré-adolescência.
O motivo dessa falta de vínculos era, digamos, bilateral. Do meu lado, não queria ter de conviver e me juntar a garotos que eu considerava absurdamente estúpidos (tanto no sentido da grosseria quanto no da inteligência questionável). Eu os via como uns bobalhões, e não queria sequer parecer com eles, quanto mais andar com eles. Eu evitava falar as coisas que falavam e fazer as coisas que faziam. Gostava de ser do meu jeito, diferente, por mais que, lá no fundo, me ressentisse por isso acabar me isolando. Do lado deles, não queriam ser amigos do “certinho”, do “CDF”, do “esquisito” da turma. Eu tirava notas altas demais e bagunçava de menos. Isso certamente estragaria sua reputação. Era melhor que se mantivessem distantes e que só se aproximassem se fosse para me zombar, estapear ou chutar (ou quando, eventualmente, surgissem trabalhos em equipe).
Porém, um ano, dentre tantos, foi diferente de tudo que eu havia vivenciado – e, arrisco dizer, do que vivenciei depois dele também. Fevereiro de 1998. As aulas haviam começado e eu, para variar, estava em uma escola nova. A turma da 6ª série era grande, como de praxe nas escolas públicas. Não que eu me incomodasse (muito). O barulho, claro, não era lá muito agradável, mas depois de seis anos naqueles ambientes eu já havia pelo menos me habituado. Contudo, em turmas maiores era mais fácil passar despercebido. Isso, por si só, era ótimo para mim.
Já havia se passado duas semanas desde o início das aulas. Como de costume, eu ainda não tinha feito nada mais que trocar poucas palavras com os colegas que se sentavam em carteiras próximas à minha. Nos recreios (ou intervalos, como preferirem), mantinha-me à parte, andando para lá e para cá e me limitando a observar a balbúrdia toda que se formava. Nas aulas de Educação Física não era muito diferente (ainda farei um post sobre este outro “desastre” da minha vida escolar). Felizmente a professora da disciplina não parecia querer forçar os alunos ainda no início do ano, e eu, “ufa”, passava longe, e sem problemas, dos times de futebol, vôlei ou o que fosse.
Era uma tarde quente de verão e o sol brilhava forte no céu. Guiados pela professora de Educação Física, saíamos pelo corredor rumo ao pátio. A claridade doía nos olhos. Os meninos (ou a maioria deles), empolgados, corriam direto para a quadra que jazia bem na frente do bloco em que nossa sala ficava. As meninas (e alguns meninos) se dirigiam para a quadra à direita, prontas para organizar suas equipes para uma partida ou uma roda de vôlei. Eu sequer entrava nas quadras. Mantinha-me do outro lado da tela de arame que as separava do pátio. Não queria correr o risco de ser chamado para jogar (ainda – ainda – não havia tido tempo para receber minha fama habitual, e os garotos poderiam eventualmente me convidar para um dos times). Preferia ficar em pé ali, somente observando o jogo, ou me sentar à beira da parte coberta do pátio, ou mesmo achar algo melhor para fazer sozinho. E naquele dia eu achei.
Avistei um pedaço de tijolo jogado num canto, encostado na tela que separava o pátio da quadra. Pronto; havia encontrado um passatempo. Coloquei o tijolo no pequeno corredor entre o pátio coberto e a quadra. Tomei distância, corri e saltei. Explico: eu estava brincando de salto a distância e o tijolo era a marca que eu tinha que superar. Fiz isso duas, três, quatro vezes, mas sem muito sucesso. Teria feito outras repetidas vezes não fosse a interferência de alguém que estava ali perto, e que até então eu não havia notado.
— Você tem que ir um pouco mais longe pra conseguir.
Ouvi a voz e olhei para o seu dono. Ele estava ali, isolado como eu. Era um dos meus colegas de turma, um garoto em uma cadeira de rodas (cadeirante, se julgarem melhor). Tudo que eu sabia sobre ele até aquele instante era que tínhamos o mesmo nome. Hoje vejo que tínhamos muito mais que isso em comum. Sorri e, aceitando o conselho, continuei a brincadeira, agora sob a “orientação” dele. A partir dali, já não lembro bem os detalhes, começamos a conversar e a passar as aulas de Educação Física e os recreios juntos.
Não muito tempo depois ele me contou sobre seu “problema”. Ele sofria de distrofia muscular, uma doença degenerativa que havia lhe tirado a força dos músculos e, por consequência, os movimentos das pernas quando tinha apenas cinco anos de idade. Para mim, o fato de ele estar em uma cadeira de rodas não fazia a menor diferença. De algum modo, havia me dado bem com ele, e o sentimento era recíproco. Aos poucos fomos nos conhecendo, até o ponto de criarmos certa cumplicidade, numa intensidade tão grande que eu jamais havia vivenciado, e que nunca mais experimentei depois disso. Falávamos tudo sobre tudo; contávamos segredos, prometíamos não contá-los para mais ninguém (e, desculpem, hei de cumprir a promessa). Conversávamos inclusive sobre garotas, coisa que teria me deixado totalmente desconfortável diante de qualquer outra pessoa. Menos dele. Lembro que, para evitar a algazarra no retorno do recreio, a inspetora pedia para que alguém o conduzisse para a sala alguns minutos antes do sinal. E, claro, ele me apontava para levá-lo, porque aí teríamos mais alguns minutos para conversarmos.
Por sinal, depois de algum tempo conduzindo a cadeira de rodas para levá-lo aonde queria, no intervalo ou na saída, me tornei quase um expert – os buracos, subidas, descidas e degraus da escola nada inclusiva já não eram mais obstáculos. Assim, passávamos juntos quase todo o tempo “livre”. Eu era suas pernas, e ele a habilidade social que me faltava. Por meio dele eu conseguia interagir com os demais; ele me entendia, me “traduzia” para os outros e, de certa forma, me ajudava a entendê-los. Desse modo, acabamos por formar, com outros meninos e algumas meninas, um pequeno grupo com uma relação de amizade tão saudável que nunca mais esqueci. Talvez isso não signifique muito para alguém que foi rodeado de amigos próximos a vida toda. Para mim foi único.
Infelizmente, não durou mais que um ano. Em 1999, mudei de bairro e de escola, novamente. Depois disso, foram poucas as vezes em que vi meu amigo. Encontrei a mãe dele vez ou outra, e ela me dizia que ele se queixava por não ter mais, na escola, um amigo como eu. Para mim não era diferente. Só voltei a vê-lo com mais frequência cinco anos mais tarde, quando voltei ao bairro, mas não por muito tempo. A distrofia havia avançado, e ele já mal podia mover os braços. Conversamos pouco nessa época; eu tinha medo de que ele, como tantos outros, não fosse mais o mesmo. Me arrependo por não ter me aproximado tanto quanto poderia.
Dois anos depois, soube que ele estava no hospital. Não me lembro de ter ido a um hospital – por vontade própria – visitar alguém antes disso, mas não poderia deixar de vê-lo. Ele estava inconsciente e seu estado era grave. Gostaria de ter falado com ele assim mesmo. Tinha certeza de que me ouviria. No entanto, a presença de outras pessoas no quarto me intimidou. Só o que fiz foi tocar seu braço e desejar, esperançoso, que se recuperasse.
Mas ele não pôde resistir ao avanço da doença. Poucas semanas depois, eu estava em seu velório, sem saber o que fazer e sem entender o que eu mesmo sentia. Acho que, no meu íntimo, não compreendo bem o significado da morte (e alguém compreende?); não consigo conceber que uma pessoa simplesmente deixe de existir, assim, de uma hora para outra. E talvez por isso não tenha conseguido chorar.
Sei que não durou tanto quanto eu gostaria e que não há mais chance de continuar a história. Mas agradeço a D-us por ter me dado o privilégio de ter um amigo tão especial. E agradeço a ele, ao meu amigo, por ter feito por mim muito mais do que eu fiz por ele. Agradeço-lhe por ter me mostrado o que é a amizade. Não fosse ele, eu jamais teria compreendido plenamente esse sentimento tão belo e profundo. Muito obrigado.